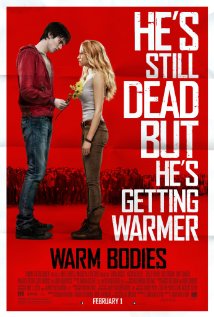Convém talvez dizer que eu nunca li os comics, nem de Thor nem do restante universo Marvel, e só conheço de forma ligeira alguma história das suas personagens. Ou seja, a minha crítica centra-se apenas no filme em si, não tendo bem em conta a adaptação.
E assim posso afirmar que fui agradavelmente surpreendida. Não estava à espera que o filme tivesse uma abordagem tão shakesperiana e penso que Kenneth Branagh foi bem-sucedido nessa transposição. Nota-se que houve cuidado em desenvolver a personagem de Thor e o seu percurso. Claro que ajuda ter um Anthony Hopkins como Odin, com toda a sua presença e aquela voz magnética. E Chris Hemsworth cria um “sólido” Thor, numa clássica viagem, mas sempre emocionante, de queda e redescoberta. Aliás, a química entre as personagens é outro grande trunfo desta adaptação; saliento ainda a perseverante Natalie Portman e o incrível Tom Hiddleston como Loki (que conheci primeiro nos Avengers, é o que dá não os ver por ordem), o vilão carismático e travesso. A caracterização de Asgard está igualmente excelente, mostrando um universo poderoso mas não demasiado fantasioso.
Desta forma, entramos neste universo a um ritmo cativante e enérgico, com bons momentos de acção e humor, que não descurando a história/mitologia, nos oferece um entretenimento sólido e contagiante!

























.jpg)
.jpg)

.jpg)